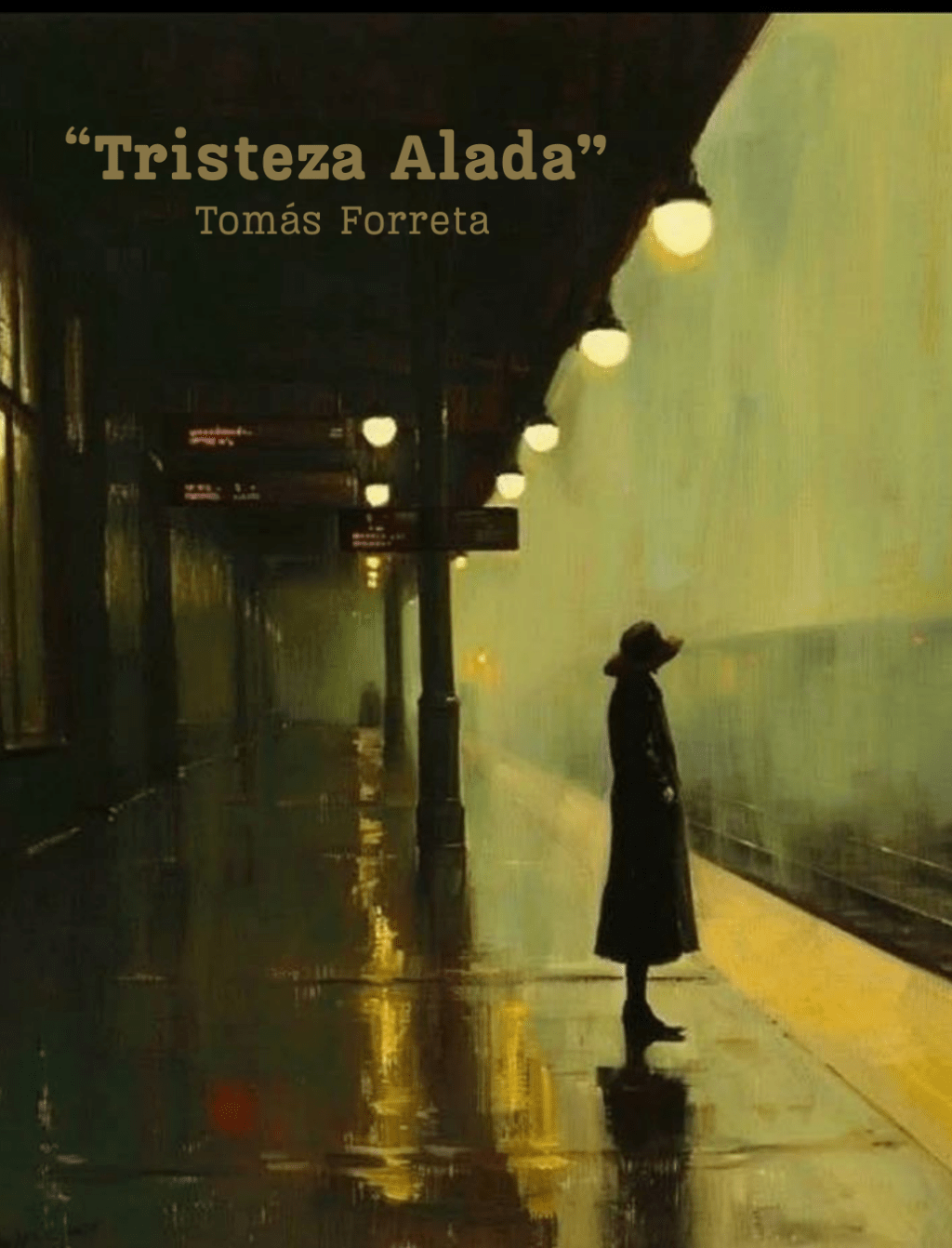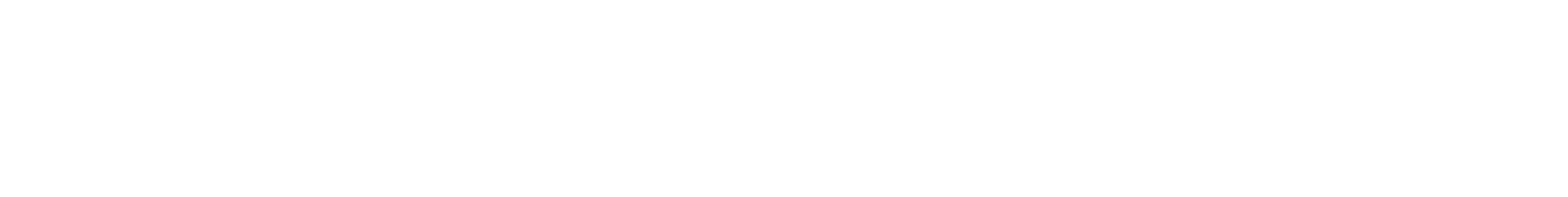Pelas ruas solitárias da cidade, na tarde tardia, Gavia passa. Como um rato no meio de grandes felinos, rapidamente atravessa entre os enormes prédios, sem aparente destino, mas parece que seus pés não acompanham a velocidade que quer. Entre avenidas e vielas, desertas e encharcadas, passa um, dois, três quarteirões, até que para de repente, suspira e diz: “Finalmente, casa!”. Tira a mochila das costas, abre o bolso menor e arranca uma fita com algumas chaves atreladas. Experimenta diversas na fechadura do prédio, mas só à terceira é que consegue virar a chave. Porém, não completou toda a sua missão, faltava alcançar a porta por si conhecida. Então, levemente menos apressada, sobe os dois lanços de escadas que a guiam ao primeiro andar, vira à esquerda e, ao ver a familiaridade daquela entrada, alivia-se.
Apercebendo-se que já chegara, não tinha grandes motivos para se apressar. Pegou, por isso, calmamente, no molho de chaves que tinha colocado no bolso. Desta vez, escolhera a chave correta na primeira tentativa. Rodou o pulso, de modo a abrir a porta, e empurrou-a. Antes de entrar em casa, bateu com os pés no chão cá fora, mas, mal fez este movimento, com a chuva que apanhou, os sapatos e a água já eram um só. Entra em casa, agora sem pressa alguma. Olha à sua volta, alegra-se ao ver que tudo continuara no sítio em que fora deixado. O espaço acolhedor em que vivia, desde nascença, nada tinha que ver a olho externo. Porém, para Gavia, era-lhe um mundo de conforto. A sala principal, a onde a porta de entrada levava, destacava-se pelo seu tom casca de ovo e simplicidade. Era reduzida, pouco mobilada, tinha apenas um sofá, onde só encolhido se conseguia dormir; uma televisão modesta; uma mesa para quatro a um canto, acompanhada de cadeiras a combinar; um móvel que em largura não se destacava, mas que chegava ao teto; um bengaleiro, à direita da porta, e uma mesa baixa junto a este, para colocar rapidamente pertences. Separada da sala de estar por uma parede semifechada, havia ainda uma cozinha, toda de madeira castanho-clara. Com o pequeno espaço da casa, pouco mais tinha para além de dois quartos, um para sua mãe e outro para Gavia, e uma casa de banho. Estava quase em tranquilidade total, mas ao sentir a poça de água que se formava por debaixo de seus pés, lembrou-se do seu estado lastimável. Assim, como se ainda apanhasse chuva, fugiu para a casa de banho para limpar a melancolia daquelas gotas de água.
Passou o pequeno resto de sua tarde na sala, onde escrevia os sonhos num caderno, na esperança de que, se assim o fizesse, estes se concretizassem. Quando a noite já caída sobre a cidade estava, eram apenas 19 horas, dois leves toques na porta acordaram-na destes pensamentos. Correu até à porta, espreitou pelo olho mágico e surpreendeu-se com o que viu. “Mãe!” gritou a rapariga enquanto abria a porta. A maneira como gritou mostrava que a menina pequenina de apenas 6 anos, desesperada para ver a mãe todos os dias depois da escola, ainda vivia nela. Mas nada era como antes, uma parte antiga de si ainda vivia dentro dela, no entanto, dez anos passaram, essa parte pequena era, perdera contra o sofrimento do mundo havia algum tempo. Porém, de tempo em tempo, esta fração de si manifestava-se, normalmente avistando sua mãe.
Puxava com força a porta, tentando aproveitar, nem que fosse, mais um ou dois segundos com ela. Mal se abriu uma brecha suficientemente grande para passar, a agora rapariga saltou para os braços da figura maternal. Parecia ser uma criança de novo. Após dez segundos, mascarados em minutos, quando a euforia passou, Gavia larga as correntes de afeto que prendiam sua mãe e diz-lhe tranquilamente “Como correu o teu dia mamã?”. A pergunta alegrou Dália, que esperara horas sem fim para ouvir a voz angelical da filha. Assim, respondeu, com um tom suave e quase harmonioso: “Correu bem, e o teu, meu pequeno anjinho?”. De pequena pouco tinha, Gavia era uma rapariga com estatura acima da média, não tão alta como a mãe, que, de dimensão tão elevada, raspava o topo da porta, tinha faces belas e um cabelo cacheado de um castanho muito escuro, mas não confundível com o preto. Era em geral bela, mas algo se destacava nela, algo tão peculiar, que não havia ninguém que lho não tivesse comentado. Das escápulas, saia um par de asas, repleto de penas, branco como leite. Este destacava-se não só por ser único no mundo dos mortais, mas também pela sua dimensão. Era de esperar que tal ser, tão pouco abundante, fosse de uma grandeza inimaginável, porém, suas asas não o refletiam, eram relativamente pequenas, sendo que, vistas de frente, pouco destas escapava pelos lados de seu corpo.
Até onde sua mente vai, Gavia sempre se recordara delas, mesmo em momentos onde as memórias projetadas pela mente se assemelhavam à imagem que o oceano agitado reflete, o contorno das asas aparecia sempre. A mãe sempre as amara, para ela, tornava a sua filha tal e qual um anjo, o “seu pequeno anjinho”. Mas o mundo cruel não. A diferença entre si e todas as outras pessoas era demasiado evidente para ser permitida a socialização. Desde pequena, foi ridicularizada pela monstruosidade que carregava consigo, não havia beleza suficiente que compensasse a aberração que o mundo achava de si. Passara, por isso, toda a vida em exclusão e, das vezes mínimas onde não o foi, assim se sentira independentemente. Onde quer que fosse, mesmo entre os amigos que tinha — poucos —, sentia-se afastada, incompreendida. Apenas Saara a compreendia, pelo menos tentava. Saara, seu único melhor amigo, era um rapaz baixo, tímido, com uma tonalidade próxima à da areia molhada. Ainda jovem, juntamente com os pais, saiu da Síria, país onde nascera, na esperança de que o Destino se alterasse, podendo ter um futuro digno da preciosidade que os pais viam em si.
Saara era diferente dos outros, os seus tons refletiam claramente o seu local de nascença. Sempre viveu na periferia da sociedade, não tanto como Gavia, porém, já era suficiente para o afetar. Encontrou, facilmente, uma conexão com a menina, este não a compreendia totalmente, nunca poderia, mas, independentemente, tentava sempre. A primeira vez que os dois amigos cruzaram olhares fora há pouco mais de um ano, no primeiro dia do 10.º ano. Demoraram muito tempo até comunicarem um com o outro — afinal, ambos eram tímidos, pouco falavam —, a sua amizade era demasiado improvável para ser uma possibilidade. Foi só num dia, quando Saara quebrou a ponta do lápis numa aula, que as primeiras palavras dirigidas a Gavia saíram da sua boca. Virou-se para a sua colega de mesa e perguntou-lhe com a voz um pouco trémula: “Olá, tu tem um afia?”. Saara sempre tivera dificuldade em conjugar verbos, acrescida ao nervosismo, a pergunta não lhe tinha saído bem, porém, foi o suficiente para Gavia lhe esticar a mão com o objeto metálico na palma. Sendo por destino ou pelo interesse que Saara via em Gavia, rapidamente se tornaram melhores amigos. Assim, à medida que a amizade foi aumentando, o tempo juntos tornou-se cada vez maior, começaram a ficar todas as tardes juntos, divertindo-se num descampado perto da escola.
Para além de alguns montes de terra e diversos objetos obsoletos, pouco constituía o descampado. Era um terreno grande no meio da cidade, cercado por prédios altos, destacava-se pela sua simplicidade e falta de vida, poucas plantas tinha. Eram poucas as pessoas que lá passavam e a maioria que o fazia tinha o propósito de deixar mobília já não desejada. Servira, por isso, durante anos, de aterro para móveis sem lugar no mundo moderno. No entanto, Gavia via algo mais neste terreno. Era-lhe casa, nunca soube porquê, mas quando lá estava sentia que os pensamentos se separavam de si, as preocupações da sua vida já não lhe pertenciam. Um sentimento parecido ao que Saara lhe transmitia.
Passara as tardes sem fim no descampado a atirar-se do maior monte lá existente para um acumulado de colchões velhos na base deste, saltara vezes sem conta. O morro não era enorme, talvez fosse possível saltar sem colchões, mas, vendo as vezes que o seu corpo deslizou pelo ar até inevitavelmente bater no chão, estes eram necessários. Os colchões eram capazes de salvá-la de ferimentos dez, vinte, talvez até trinta saltos, mas, num só dia, as suas pernas poderiam ficar em suspensão mais de cem vezes. A sua dedicação era incompreensível, ninguém percebia a razão de seu esforço. Apenas Saara, que assistia a sua amiga a saltar do morro vezes incontáveis, sabia a causa de cada um destes pulos: as suas asas. Gavia era alada, porém, nunca foi como qualquer outra espécie com estas características. As suas asas eram como lâmpadas decorativas, a sua presença faz-se, mas nunca foram vistas a irradiar a beleza total de que são capazes. Tentara desde a infância voar, experimentando lugares cada vez mais altos. Tentativas falhadas atrás de tentativas falhadas. Nunca desistiu. Saltara todos os dias para os colchões, esperando que um dia a gravidade não se aplicasse a ela. Esperava que, se assim fosse, as pessoas não veriam em si uma aberração, mas um anjo, tal como sua mãe. Saara sempre lhe dissera dos perigos disto e que não valia a pena tanto esforço, só muda quem o deseja, porém, de pouco valiam os avisos. Gavia sempre fora teimosa.
Na tarde chuvosa em que corria para casa, voltava do descampado, acumulara mais algumas dezenas de saltos. Acabara de passar uma tarde iluminada com o amigo, brincaram, riram, esqueceu-se. No entanto, tinha de o deixar a certo ponto, assim foi. Quando percebeu que já se fazia tarde demais, despediu-se dele. Durante isto, viu, a um canto de sua visão, o sol que iluminava as suas almas a desaparecer, “Ainda não está de noite. Estranho!”, disse para Saara. Verdade era, o sol apenas triste ficou desta separação e escondeu-se. Dando lugar às suas lágrimas, começou a salpicar. Pouco pensou do acontecimento, foi só uns minutos depois, quando já regressava sozinha a casa, que o aumento do choro solar lhe fez acordar a consciência. Assim, chorou também, interiormente, com a quantidade de tristezas que circundavam cada pensamento e exteriormente com a quantidade de água que lhe escorria pela face. Sentia uma tristeza repentina, uma força que a puxava para a escuridão. Saara e o descampado, ótimos eram para a disfarçar, mas o balde por debaixo da fuga de água não conserta a infiltração. A dor voltara a consumi-la.
Corria agora rapidamente para casa, mas o que faria quando chegasse, nem ela sabia. Perdera a sua mãe há três dias para uma causa que nem ela sabia explicar. Os médicos disseram-lhe um mês antes que as células de intestino de Dália tinham um defeito de replicação, não sabia ao certo o que significava, mas o tom fê-la perceber a seriedade. Cuidou dela, porém, nem sempre o cuidado é suficiente. Perdera o seu mundo pouco mais de três semanas depois. Não sabia o que fazer, ficara sozinha em casa, na cidade, no país, no planeta. Não havia ninguém que pudesse substituir a presença de sua mãe, então, de tempo em tempo, sonhava vivamente acordada com o regresso dela. Às vezes, as recordações eram simples como ouvir a sua voz a chamar da cozinha para a rapariga ir jantar, outras vezes muito complexas, vendo, por exemplo, a sua mãe a chegar a casa. Já não aguentava mais. O sofrimento quando voltava a perceber que a sua mãe já não fazia parte daquele mundo era horrendo. Passara a tarde a escrever os sonhos em papel, mas não os seus. Escrevia a Saara, desejando que tudo lhe corresse bem na vida. Manifestava todos os sonhos e vontades do menino, dizendo que não importava onde estaria, rezaria sempre por ele. Mas será que conseguiria fazê-lo tendo em conta para onde vai? Nem ela sabia.
Quando a carta já terminada estava, as memórias da mãe a regressar atingiram-na de novo. Alegrou-se, não se apercebendo da falsidade da visão, e, apenas dois minutos depois, percebeu que Dália se desintegrava ao entrar em casa. Assim, desolada ficou, de novo. Era impossível viver assim, as visões eram demasiado reais, traziam-lhe demasiada esperança. Mas não havia esperança suficiente no mundo que fizesse a mãe voltar. Pegou, então, no casaco à porta e, magoada, saiu de casa. Levava apenas um envelope e a folha onde escrevera durante toda a tarde. À medida que foi descendo as escadas, foi dobrando o papel, de modo que o envelope o conseguisse conter. Tendo-o feito, apressou-se. Tinha a tarde livre, já não havia chuva na rua; apesar disso, Gavia andava como se houvesse. Os seus pés pareciam lutar para decidir quem estaria mais à frente, guerreando cada vez mais rápido. Já estava de noite quando saiu, as ruas estavam molhadas, ainda um pouco vazias, mas já algumas pessoas circulavam. Quem a via achava que estava atrasada, mas tudo o que queria era não se arrepender.
Após diversos minutos em passo rápido, parou. À sua frente, um prédio baixo, em decadência. As varandas, que quase caíam, acompanhadas estavam de janelas esburacadas e portas lascadas. Na porta principal do prédio, procurou, apressadamente, uma caixa de metal com as inscrições “1.º D”, mas, com os nervos a bombearem mais que o coração, demorou mais tempo do que desejava. Ao encontrá-la, pegou novamente no envelope que escondera no bolso. Nele, escrito estava: “Para: Saara” e, em baixo, “Não é culpa tua.”. Enquanto o inseria na ranhura da caixa metálica, uma lágrima formou-se em seus olhos e, em sintonia com a queda do envelope, a gota de água também lhe escorreu pela face. Era triste, mas não podia desistir agora, já tinha vindo tão longe. Com a lágrima ainda por cair da cara, virou-se, continuando a jornada.
Já nada tinha. Os bolsos vazios estavam, as mãos ainda mais, não trazia mochila. Estava livre de matéria, não havia nada que a prendesse ao mundo. Assim, voltou ao passo rápido. Desta vez, a rapariga não sabia para onde ia. Tinha uma vaga ideia, mas as memórias deste sítio eram como uma visão no nevoeiro. Passara lá em algumas ocasiões distintas com a mãe, mas Gavia já não sabia ao certo onde ficava. Fora há anos. Por isso, errou pelas ruas como um peregrino não religioso.
As estradas estavam escuras, eram apenas iluminadas por algumas lâmpadas brancas, fracas, com um brilho hospitalar. Doía-lhe tudo, especialmente os pés, mas comparado ao sofrimento da alma, preferia continuar, apagando os pensamentos árduos com o andar doloroso. Caminhara exaustivamente. Agora, as ruas que percorria, por mais ninguém eram atravessadas, estava novamente sozinha. Tirando algumas luzes que escapavam pelos buracos dos estores, nenhum sinal de vida se apresentava. Ao menos estava quase a chegar, pelo menos acreditava que sim. Ouvia o rio na distância, ganhava esperança. Seria apenas a ausência de sons?
Atravessava agora uma longa avenida, reconhecia-a de algum lado, não sabia ao certo de onde. À medida que se afastava do início da rua, o silêncio aumentava. O barulho do vazio começava a tornar-se ensurdecedor, preferia que lhe gritassem ao ouvido. A saliva que lhe caía pela garganta abaixo sabia a metal. As visões que lhe chegavam aos olhos, poucas, eram turvas. O corpo doía-lhe. Tirando isso, o aroma da maresia acariciava-lhe o nariz. Em mundo de tormentos, o único prazer era este cheiro que desaparecia e voltava ao olfato de tempo em tempo. Agora sabia-o, estava a aproximar-se.
Tudo lhe dava sofrimento, mesmo assim, andava sem parar. A dedicação era implacável, faria tudo para realizar os objetivos. Porém, desde o início da rua em que passava, um sentimento de arrependimento foi crescendo nela. Apareciam-lhe, subitamente, algumas imagens na cabeça, nestas a rapariga divertia-se. Poucas eram as memórias, os raros momentos de felicidade na sua vida sempre foram abolidos pela tristeza inexorável da vida. A dor sempre fora como uma sombra para ela, não importa onde fosse, estava sempre acompanhada por esta. Assim, quando o sol cede o lugar à lua, a sua sombra ganhava terreno infinito, emergindo-a no sofrimento da escuridão. Só a mãe era capaz de iluminar estas noites. Mas agora, quem haveria de a iluminar, quem seria o farol da sua vida? Ninguém. Nesta noite deserta, sofria.
A essência a sal que o rio a encontrar o mar produzia chegava-lhe mais intensamente às narinas. O cheiro era, agora, persistente. Estava escuro, a rua que percorria há meia hora tinha ficado gradualmente sem luzes, era agora apenas iluminada pelo brilho estelar. No entanto, com dificuldades, já começava a ver à distância algo que se assemelhava ao seu destino. Então, correu o mais rápido possível tendo em conta o seu estado, usando cada uma das suas últimas forças. O fim estava perto ou seria aquilo apenas o começo de algo maior, não sabia. Aproximava-se rapidamente daquilo que, agora, parecia ser uma ponte.
O sítio onde veio era uma antiga ponte para pedestres, aparentava ser uma miniatura da ponte 25 de abril. Já ninguém atravessava este local, devido ao progressivo desgaste, caíra em desuso. A ponte, outrora vermelha brilhante, onde ela e a mãe passavam para ver o pôr do sol, tornara-se um local obscuro, ferrugento. Com a chuva e falta de arranjo, o vermelho, que antigamente se assemelhava à beleza do sol, era agora de um tom sangue escuro.
Aproximava-se cada vez mais. Estava agora tão perto, que conseguia tocar no corrimão que percorria toda a extensão da ponte. As imagens que piscavam na sua cabeça estavam num ritmo cada vez maior. Tinha medo. A mãe, Saara, a casa, o descampado, aparecia-lhe tudo isto por pequenos instantes. Seria arrependimento? Não queria pensar nisso, o que agora importava era cumprir a missão que tanto desejava: ser livre.
Passou uma perna por cima do corrimão, a outra. Estava agora cara a cara com o precipício até à água. Agarrava-se à vida apenas com as duas mãos que ainda seguravam no corrimão, mesmo estando do outro lado da passagem pedestre. Olhava para a distância, não via muito. Destacava-se o céu estrelado que olhava diretamente para ela, seria uma daquelas estrelas sua mãe? Via-se ainda — por debaixo de si —, o reflexo, no rio agitado, de cada um daqueles astros. Sentiu uma brisa a raspar-lhe as costas, um arrepio subia-lhe a coluna. Seria frio ou medo?
Chegara tão longe e, agora, não conseguia realizar o plano. Era como se algo maior a impedisse, uma força tão forte que era impossível de contrariar. Mas tinha de o fazer. O destino já lhe tinha traçado este caminho desde que nascera. Tentava mexer os músculos, mas estava paralisada. Gritou: “Fá-lo, tu consegues. Não quero sofrer mais!”; mas não era suficiente. Então, pensou: “É só mais um salto, quantos deste já dei no descampado. Ficará tudo bem.”. Fechou os olhos e imaginou-se no topo na colina de terra.
Estando de novo nesse lugar tranquilizante, largou as mãos que a prendiam ao mundo real e deu um passo em frente, seguindo para o mundo sobrenatural, deixando para trás o sofrimento e seguindo a felicidade. Sentia outra vez o vento a bater-lhe na cara, sentimento tão reconfortante. Abriu de novo os olhos para encarar o futuro, viu as estrelas cada vez mais próximas, o seu corpo a aproximar-se delas; alegrou-se. Alguns segundos passaram, o vento era agora uma rajada, o ar começava a magoá-la. De repente, passa-lhe uma imagem na mente: “Não importa a dor no mundo, temos sempre alguém em quem te apoias. Sou teu amigo hoje, serei amanhã também.”; lembrara-se de Saara. No seu melhor português, o melhor amigo tinha-o dito há alguns dias, quando descobriu o falecimento de Dália. Gavia apercebeu-se de que, com a sua partida, passou a sua solidão a Saara. Mas o que faria ele sozinho no mundo? Ela estava habituada a estar sozinha, mas será que ele estava? A felicidade tornou-se novamente em tristeza. Esperava agora, desesperada, que as asas funcionassem. Mas já não podia voltar ao conforto dos pés no chão. O Destino estava traçado, a ação feita. Arrependera-se.
De repente um estrondo ecoa pela superfície do rio. Como uma bala, o som espalha-se rapidamente pelo ar. Gavia não o pôde ouvir. Talvez agora estivesse num mundo alado, talvez agora fosse finalmente feliz, talvez agora conseguisse voar junto da mãe. Talvez agora pudesse finalmente ser o seu anjinho.
Autoria: Tomás Forreta